Um português é um português
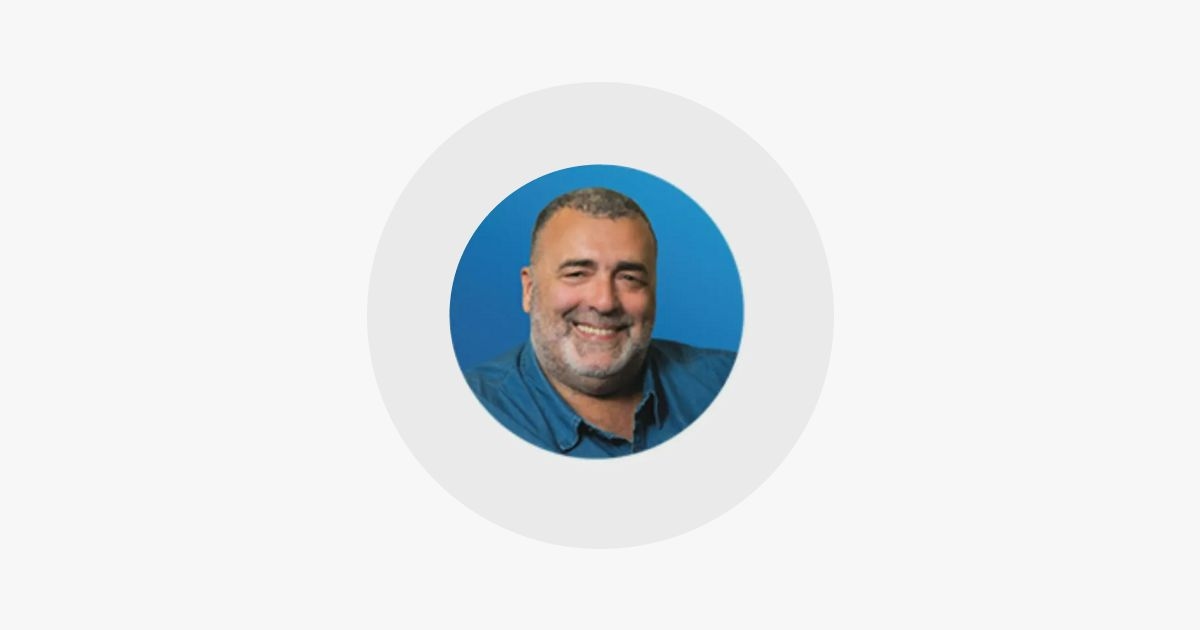
O voto da Iniciativa Liberal a favor da lei da nacionalidade não tem nada de liberal e, quanto mais se insiste em lhe chamar liberal, mais se revela o equívoco, como se fosse um rótulo colado em cima de uma garrafa de vinagre a dizer vinho do Porto. É o género de coisa que se faz para tranquilizar consciências, para dar uma aparência de seriedade a um gesto que, no fundo, é tudo menos sério. Já havia, como todos sabem, portugueses de primeira, os do litoral, com universidades onde entram e saem professores, hospitais que funcionam mais ou menos, estradas alcatroadas e serviços públicos que, apesar de todas as queixas, ainda existem; já havia portugueses de segunda, os do interior e das ilhas, que esperam meses por uma consulta, que vivem em lugares onde um incêndio leva uma semana a ser apagado, onde a ligação ao continente é uma lotaria de preços e horários; e agora, com uma leveza quase cínica, inventaram os portugueses de terceira, como se fosse inevitável, como se fosse natural. É uma espécie de burocracia da desigualdade: organizam-se as pessoas em prateleiras, etiquetam-se, decide-se em que categoria ficam, e pronto, problema resolvido, justiça feita. É assim que se finge ordem no meio do caos.
Um português é um português, ou deveria ser, mas nesta lógica não é. Porque passa a haver portugueses precários, portugueses descartáveis, portugueses que podem ser desligados da tomada por um gesto de secretária, como quem desliga uma lâmpada velha que já não ilumina nada. A cidadania, transformada em contrato de telecomunicações, com cláusulas escondidas e letras miúdas, um serviço que se cancela quando não se paga a factura ou quando o fornecedor decide que o cliente não presta. É de um absurdo colossal, quase grotesco, mas apresentado com a seriedade teatral de quem acredita estar a defender o Estado de direito. Apertem-se os filtros, evidentemente. Façam-se processos rigorosos, investigue-se com cuidado quem pede a nacionalidade, exijam-se provas, documentação, veracidade. Mas, uma vez concedida, a nacionalidade não é uma esmola que se retira, não é um favor que se pode devolver como se devolve um presente na loja com o talão. A cidadania não é um objecto que se entrega e se retira ao sabor da conveniência.
E aqui está o ponto central: o que mais incomoda, o que mais envergonha, é a forma como o Estado, que devia assumir as suas falhas, arranja maneira de se limpar das culpas. O Estado que atribuiu a nacionalidade, que não fiscalizou, que não viu o que devia ter visto, que deixou passar processos fraudulentos, é o mesmo que agora, como um moralista de ocasião, decide que a culpa é do cidadão. E, em vez de corrigir o que falhou no seu interior, prefere amputar direitos a quem já os tinha adquirido. É a velha técnica de Pilatos, mas numa versão burocrática e fria: lavam-se as mãos, e o erro passa a ser do outro. Como se o Estado fosse uma entidade incorruptível que nunca se engana, e não o conjunto de homens e mulheres que tantas vezes erram, falham e são cúmplices de esquemas. Isto não é liberalismo, é apenas mais uma manifestação da arrogância estatal, uma forma de governar pelo atalho, uma espécie de expediente administrativo para esconder a própria incompetência.
Porque o liberalismo, o verdadeiro, não é isto. O liberalismo não é o Estado a decidir quem pertence e quem deixa de pertencer, como se a pátria fosse uma sala de espera de hospital onde alguém distribui senhas e, a meio da fila, resolve que afinal já não há atendimento. O liberalismo é exactamente o contrário: é garantir que, uma vez reconhecida, a condição de cidadão é intocável, é um direito que não pode ser amputado pelo capricho legislativo ou pela vontade de parecer severo em tempos de populismo. O liberalismo é proteger o indivíduo contra o Estado, não transformá-lo em refém da máquina estatal. Esta lei, longe de ser progresso, é uma regressão. É um dispositivo próprio de regimes inseguros que vivem do controlo e da ameaça. É um retrocesso civilizacional. E o voto da Iniciativa Liberal, em vez de afirmar princípios, foi uma rendição, uma capitulação diante do discurso fácil da punição e da força.
E no fim sobra apenas isto, o óbvio que se tenta esquecer, mas que é inescapável: um português é um português. Não há portugueses de primeira, de segunda, de terceira. Não há cidadania com prazo de validade, não há passaporte que se confisque como se confisca um carro mal-estacionado. Se um Estado começa a decidir quem merece continuar a ser cidadão e quem não merece, deixa de ser um Estado liberal e passa a ser outra coisa, qualquer coisa mais próxima daquilo que já tivemos e que jurámos não querer repetir.
observador





